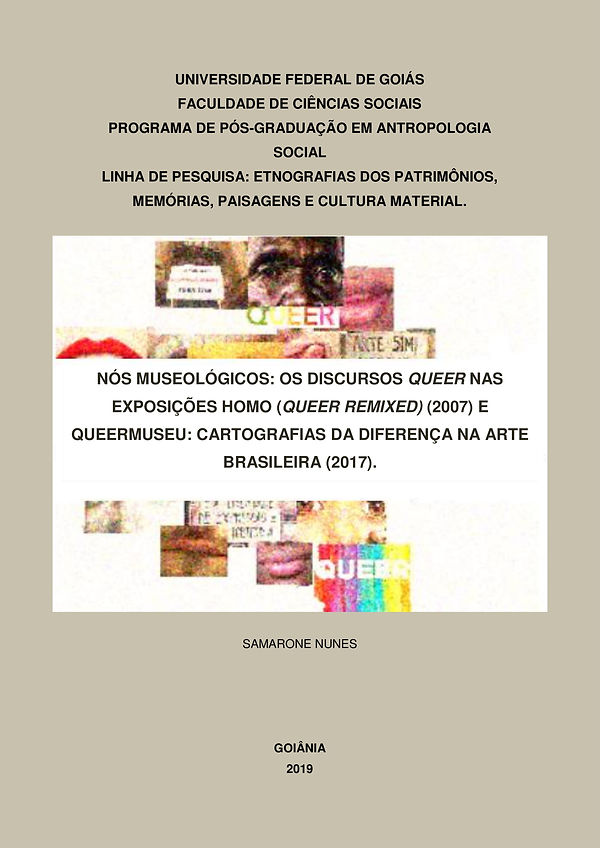Descreva sua imagem aqui.

Descreva sua imagem aqui.

Descreva sua imagem aqui.

Descreva sua imagem aqui.
PORTFÓLIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
LINHA DE PESQUISA: ETNOGRAFIA DOS PATRIMÔNIOS, MEMÓRIAS, PAISAGENS E CULTURA MATERIAL.
NÓS MUSEOLÓGICOS: OS DISCURSOS QUEER NAS EXPOSIÇÕES HOMO (QUEER REMIXED) (2007) E QUEERMUSEU: CARTOGRAFIAS DA DIFERENÇA NA ARTE BRASILEIRA (2017)
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Antropologia Social – PPGAS, da Universidade Federal de Goiás – UFG, como pré-requisito para obtenção do grau de Mestrado em Antropologia Social, sob orientação da Profa. Dra. Camila A. de Moraes Wichers.
GOIÂNIA
2019
Agradecimentos
Momentos difíceis pedem doses redobradas de coragem. Enquanto isso, chegamos a acreditar que logramos obter qualquer coisa por mérito exclusivamente próprio. Não é de tudo assim, antes desse trabalho chegar até aqui, muitas relações foram construídas, outras desfeitas.
O que resta é o aprendizado, outros patamares a serem galgados, novas relações tecidas e a possibilidade de empregar as ferramentas adquiridas em prol dos que seguem após mim.
Dessa feita, quero agradecer em especial, a orientadora Profa. Dra. Camila A. de Moraes Wichers, por encampar o desafio e pela paciência no decorrer do processo.
Também, pela disposição em compartilhar suas memorias, arquivos e conhecimento, quero agradecer ao Curador Hugo Siqueira pela generosidade.
Sou grato à profa. Nei Claro de Lima que sempre se colocou a disposição para abrir suas memórias e ceder informações importantes para a edificação desse estudo.
Agradeço ainda ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (FCS-UFG), Na pessoa Luis Felipe Kojima Hirano enquanto coordenador e presença na banca de qualificação. O corpo docente que nas prelações deixaram cintilar na consciência questões fundantes trabalhadas aqui. A secretaria do PPGAS-UFG, na pessoa do Elder Dias, meus agradecimentos.
Estendo minha gratidão ao Adelino de Carvalho do MA-UFG, Profa Mª Luiza Rodrigues pelas valiosas contribuições na Banca de Qualificação assim como em outros momentos. Isabel Costa da equipe do Museu de Arte de Goiânia e a colega Rosana pelo apoio.
Do Sul, Marco Fronckowiak no incentivo para realizar a pesquisa.
Por fim, agradeço todos aqueles que de uma forma ou outra, me emprestaram suas memórias e escritos auxiliando na composição desse texto.
Grato.
Somos nossa memória, somos esse quimérico museu de formas inconstantes, esse montão de espelhos rompidos.
Jorge Luis Borges
SUMÁRIO
Antropologizando museus - Musealizando devir. 22
1.1. Museus e Antropologia. 23
1.2. Interseccionalidade e museu.. 33
1.2.1. Interseccionalidade. 33
1.2.3. Museus e Representação. 41
Exposições Queer: ou é patrimônio, ou é esquecimento, os dois não dá. 43
2.1.1. “Preliminares”: biografia de um discurso expositivo. 49
2.1.3. Produtos e produtores. 59
2.3. QueerMuseu - Cartografias da diferença na arte brasileira – 2017. 71
Desvios do olhar antropologizado.. 88
3.1. A virtualidade como campo em que se dão as disputas. 89
3.2. Preliminares: engenharia do Devir 94
3.3. Ato I - diferença como tônica da representação. 99
3.4. Ato II - adiantando considerações. 105
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.. 113
INTRODUÇÃO
Os nós que apertam
Escrever, dizem, é um ofício solitário e penoso. A escrita requer do autor várias idas e vindas sobre o escrito, em um revisitar criterioso, muitas vezes doloroso, análogo a “ir a campo”. Zelar em exprimir com fidelidade a miríade de acontecimentos colhidos no campo requer diversos redesenhos daquilo que lhe anima a mente. É prazeroso quando essa fidelidade é alcançada.
Pensei, para a introdução, várias abordagens que retratassem, com mais ou menos acerto, aquilo que vivenciei nos últimos semestres entre as salas da Universidade. Tomo o curso – que esse escrito é produto, como campo. Até porque essa escrita que por ora apresento, é uma conjunção daquilo que não aparece aqui de tudo.
Logo depois pensei em introduzir o texto descrevendo o longo corredor, quase asséptico (me lembra, pela ausência de pouso, as alas de hospitais) de pessoas que borram o brilho opaco do linóleo, com seus tipos característicos sendo engolidos por portas silenciosas. Uma parada pela Sala 2[1], quase sempre trancada a cadeado e a decisão necessária sobre sair a captura da vigilante solicitando o franqueamento à sala. Após aberta, descrever a disposição dos vários grupos que compõem a turma e contextualizar corpos e falas. Ou ainda, traçar um panorama dos marcadores da diferença presentes e quando essa categorização vez ou outra emergem no conjunto. Outra possibilidade é apresentar as impressões causadas por conceitos e temas tratados no curso.
Entretanto, por várias vezes, ainda que tentasse esboçar as questões referentes ao conceito de campo e sua problemática, tais questões se imiscuíam como tema recorrente tanto nesses grupos, quanto nos incômodos rotineiros e pessoais que se impunham. A dimensão do campo surge como pano de fundo a cada fala dita, testemunhando o desconforto dos participantes no posicionamento frente às demandas dos projetos de pesquisa e as longas discussões sobre a separação entre pesquisador e o objeto de pesquisa.
Ainda que se tratasse aqui de uma etnografia rudimentar da Sala 2, o problema estaria na qualidade emprestada ao tratamento dado aos nossos grupos. Ciente da impossibilidade de esgotar todas as possibilidades metodológicas de escrita, teóricas e éticas e, já pensando nesse texto como uma possibilidade ensaística de exploração de um mundo novo, o mundo da escrita etnográfica enquanto um laboratório analítico para questões tanto minhas, quanto da Antropologia, no que se refere ao locus do campo para os eus descentrados.
Nesse texto pretendo alinhavar o campo expandido por meio de alfaiataria composta por identidades provisórias comprometidas com uma trajetória possível, compondo, há seu tempo, uma colcha matizada e diversa que não se esgota aqui. Contudo, interrupções travam essa urdidura (Em alguns momentos, o leitor poderá encurtar ou distender essas interrupções, acessando pelos QR Code[2] disponíveis no rodapé da página, informações, imagens, vídeos e outras informações que sobrecarregam essa pesquisa, além de poder ouvir a versão em áudio dessa dissertação – QUAL O QR CODE PARA ISSO?). No campo museológico, a operacionalização dos grupos desviantes em vias de incorporação é um entrave recorrente. Nada melhor do que a Antropologia para revirar os incômodos e arestas tanto ignoradas pelo campo museal. São os nós aludidos no título - Nós museológicos: os discursos Queer nas exposições Homo (queer remixed) (2007) e QueerMuseu: cartografias da diferença na arte brasileira (2017) dessa pesquisa. Emprego com gosto as inversões propostas pelos teóricos queer[3] nas tramas e urdiduras necessárias para elaborar um tecido compreensível do campo, este como estrutura, irregularmente constituído de tropos/rugosidades, que apontam constantemente atritos silenciados que perturbam a “normalidade” do plano.
***
O objetivo da pesquisa é entender como instituições museais lidam com os conflitos resultantes do desejo de musealização das diferenças a partir de duas mostras expositivas intituladas como Queer. Há hiato de dez anos entre as duas mostras. Em 2007, Goiânia por ocasião do 5 ENUDS, mais precisamente, o Museu Antropológico da UFG que recebeu a exposição “Homo (queer remixed)” e em Porto Alegre, no Centro Cultural Santander, em 2017, ocorreu a exposição “QueerMuseu - cartografias da diferença na arte brasileira”. Nesse sentido, a investigação levantará questões de representação em museus de grupo sub-representados ou silenciados queer no circuito da arte regional brasileira.
Chamo de grupos sub-representados aqueles constituídos por coletivos e pessoas apresentadas no discurso museológico em situações deslocadas física-temporal, muitas vezes conjugada, com objetivo de produzir uma dissociação representacional. Essa prática que chamo de folclorização (NUNES, 2015), sedimenta o silenciamento e posterior apagamento de grupos e pessoas. Embora esteja falando de uma representação estética, a dissociação representacional atinge de maneira prática esses coletivos, vedando a esses grupos e pessoas a representação política, por exemplo.
Começo por citar os indígenas, a partir da realidade circunstancial de Goiânia – Goiás, de onde acesso a maioria das informações que irão compor esse texto. Vejo, visitando os museus dedicados aos nativos originais, os discursos expositivos trazerem as diversas etnias como um “bom selvagem”, desse modo, é produzido um deslocamento temporal-histórico, que fixa a diversidade como “primitiva” (classificar a diversidade étnica pelo epiteto “índio” é o mais forte sinal). Assim, das quatro exposições de longa duração em exibição nos principais museus de Goiânia – Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás (MA-UFG); Museu Zoroastro Artiaga da Secretaria Estadual de Educação Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE-GO); Memorial do Cerrado, Museu da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Centro Cultural Jesco Puttkamer (os três ligados à PUC-GO), os nativos nunca são apresentados portando ou utilizando tecnologias ocidentais contemporâneas, embora Goiânia sedie o maior número de museus dedicados a essas etnias discussões são estanques e não inscrevem esses sujeitos na contemporaneidade. Representados como “naturalmente integrados a natureza”, como se essa integração com a natureza fosse incompatível com as relações com o estado ocidental de cultura. Esse recorte nega direitos, vontades, autonomia e identidades culturais diversificadas. Para os mais de duzentos grupos étnicos sobreviventes no território nacional, somente um recorte identitário é passível de ser mostrado.
O caso dos negros e negras é grave. Se por um lado, temos diversas ações museológicas (ainda que restritivas) criando narrativas sobre os “índios” nacionais, não há nenhuma na capital goiana dedicadas, mesmo que equivocada, aos negros e negras nacionais. Isso, a meu ver produz dissociação completa, física – porque relega o discurso expositivo para espaços inacessíveis e ou subalternos no contexto do museu. Um exemplo preciso é o do Museu das Bandeiras relacionado ao Instituto Brasileiro de Museus (MuBAN-IBRAM). Lá, as referências que ilustram a presença desse recorte, figurava sob uma escada, espremidas – lugar de passagem (A ressignificação proposta por uma museóloga negra e diretora da instituição há alguns anos para trabalhar a questão, lhe custou o cargo). Outras exposições colocam os negros e negras ainda como escravos em deslocamento temporal – um tempo que nunca passa, sendo que os instrumentos de tortura (do período colonial) são elevados a marcadores definitivos nesse lugares da modernidade para os descendentes dos escravizados. Todos os museus nacionalistas trazem essa narrativa única e “estereotipante”.
Por leitura concedida de “O Espetáculo do ‘Outro’” (HALL, 2016), entendemos o funcionamento da narrativa representada pela folclorização compulsória à identidade, ou “identidades” como quer alguns, no discurso expositivo. Na investigação que Stuart Hall faz para entender a espetacularização do outro mostra o funcionamento da narrativa enquanto “estereotipagem”, processo pelo qual a cultura visual popular e de massa se utiliza de estereótipos datados do período da escravidão ou do imperialismo (HALL, 2016, pp. 139-140). Para efeito dessa pesquisa, a folclorização é a “figura” ou rótulos indenitários empregados no discurso expositivo para a representação compulsória da identidade (ou no máximo “identidades” no plural como querem alguns na museologia).
As mulheres nessa hierarquia estão em estado de coadjuvantes. São mostradas como suporte ao discurso heteronormativo e de classe. Sexualidades, gênero e seus testemunhos desviantes estão vedados à manifestação, como pretende demostrar essa dissertação.
Pelo dito, questões de gênero, sexualidade, raça ou etnia serão abordadas nesse estudo sob a perspectiva da interseccionalidade. Os conflitos decorrentes da representação de grupos desviantes (como, por exemplo, o caso LGBTTQ+) empenhados na reivindicação representacional em museus apresentam, por ora, como problema pouco enfrentado pelo campo da Museologia a partir dessa perspectiva. Cada vez mais, é recorrente nos museus a movimentação no sentido de legitimar determinadas identidades e patrimônios de grupos que, historicamente, estiveram excluídos do fazer dos museus. Contraditoriamente, tal movimento data de algumas décadas, porém, o campo museal ainda é rarefeito no que diz respeito ao interesse por dialogar com tais grupos. Assim, boa parte das unidades museais continuam a reproduzir um fazer que não é sensível a questões inclusivas, realizando ações meramente compensatórias pela perda de direitos.
Perpassam o trabalho reflexões de autoras e autores tais como: Gayatri Spivak, Judith Butler e Stuart Hall, para pensar o lugar do discurso, acompanhar os meandros das expressões e refletir sobre a formação das identidades por meio das coisas que lhe dão sentido.
Diante da violência epistêmica decorrente da força colonial que nos tenciona, preferi a companhia dos negros, mulheres e desviados que pensam os comportamentos divergentes, as identidades e os discursos. O Novo, o Velho e os Mundos apartados contribuem com pensadores que, na intersecção, geram reflexões produtivas para o entendimento de como são construídas as identidades, a partir daqueles que das identidades se servem. Dessa forma, a pesquisa busca contribuir com as reflexões sobre a captura de grupos desviantes por museus.
Começo apresentando a crítica e teórica, Gayatri Chakravorty Spivak, indiana nascida em 24 de fevereiro de 1942 em Calcutá, atuante como professora na Universidade de Columbia. Como palestrante e escritora pelo mundo, seu livro “Pode o subalterno falar” é seminal para o pensamento pós-colonial analisar a posição que o sujeito subalterno ocupa nos discursos. Spivak inseminou meu pensamento com as primeiras ferramentas teóricas que pude manejar em um campo marcado pela colonialidade como a Museologia, e dele extrair percepções organizadas. Até então, o que era suspeita tomou corpo. O conceito que traz de representação tem sido essencial para o entendimento, posterior, de representação como colocado por Hall, e estranhado por Butler.
A par das contradições de um sujeito outro essencializado, Spivak (2015), distingue “falar por” (vertretung) de “re-presentação” (darstellung), um é a outorga do direto de fala em favor do representante ou instituição política e o segundo diz respeito à dimensão estética e de encenação. Para o momento, as questões dessa outorga em forma de discurso autorizado é o que será analisado de maneira caracterizada como discurso expositivo. Quem são esses sujeitos que são representados, sub-representados, ou “capturados” pelo espectro político do discurso autorizado? Existe alguma possibilidade real de auto representação, já que o subalterno está condicionado ao silêncio? Suas colocações são pertinentes como pano de fundo às complexidades, inversões de posições e estranhamentos que os estudos Queer provocam.
Stuart Hall foi um dos fundadores do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham em 1964, que dirigiu de 1968 a 1979, se aposentando na Open University em 1997. Veio a falecer no dia 10 de fevereiro de 2014, aos 82 anos. Hall é exemplo de que representação importa. Para responder sobre como a representação é construída, Hall parte da noção de que cultura é um sistema de “significados compartilhados” entre pessoas. E a linguagem, um “repositório-chave” de valores com significados culturais. Como ato criativo, por meio da linguagem, damos sentido as coisas, nisso a própria cultura é também, modulada, descontruída ou apropriada. A linguagem exterioriza o pensamento e o sentir, eles mesmos “sistemas de representação” animando o interior do sujeito ou fora no mundo. Portanto, é o discurso autorizado – o aspecto político da linguagem, que operando em sucessivos níveis de profundidade nos sistemas de representação – sendo a exposição, nosso objeto, um deles - estabelecem o modelo de identidade autorizada.
Produtiva autora, Judith Butler, nascida em 24 de fevereiro de 1956 em Cleveland, atua na universidade da Califórnia em Berkeley. Butler nos acompanhará nos meandros da performatividade, colocando as questões de gênero em dimensões que possamos manejar em campo, onde as representações e identidades voláteis se sobrepõem, não raro, se contradizem. Filosofa pós-estruturalista, teoriza sobre o feminismo, teoria queer, filosofia política e Ética.
Para nosso interesse, a discussão levantada pela autora de que sexo e gênero são igualmente construções discursivas e culturais coloca-se como especialmente interessante. A dualidade defendida pelo feminismo até então, sexo/natural versus gênero/construção, foi vista como mais uma maneira de atualizar a essencialização de uma categoria. Como crítica dessa dicotomia, Butler contribui para a desconstrução de um sujeito unitário, sendo gênero um efeito dentre outros mais. Ou seja, sexo, gênero e sexualidade, em suma, são expressões de uma identidade performática.
Tanto Butler quanto Hall reconhece o poder da linguagem como elemento estruturante na enunciação de identidades. Spivak acena com a impossibilidade de essas identidades protagonizarem a linguagem do poder. Por serem furtivas, as identidades são borradas, restando performar discursos incompletos e insatisfatórios. Os estudos queer parecem sugerir inverter as categorias da linguagem para o sujeito poder exercer a representação identitária.
***
Nem sempre o campo foi um problema de primeira grandeza na antropologia. Grosso modo, são identificados três momentos que marcam a posição antropológica e ajudam a organizar o pensamento acerca do cruzamento da museologia com a antropologia para a realização desse deslocamento, há outros e podem ser acessados pela ordem temporal ou histórica, por exemplo. Para as preliminares ficou assim:
a) como curiosidade - a princípio, o ‘antropólogo’ interpretava e comparava a partir dos relatos colhidos por outros. Pelos Impérios e mais tarde pelos Estados nacionais, quando militares em campanha relatavam as curiosidades, ou pela Igreja, por meio dos missionários maravilhados com os inúmeros pecados colecionados em suas missões entre “os selvagens”. O deslumbramento com o diferente produz consideráveis distorções que sem demora foram identificadas pelos primeiros antropólogos (RIBEIRO, 2017; CLIFFORD, 2008; GEERTZ, 2005; VASCONCELLOS, 2011; ABREU, 2005; LOPES, 1997).
b) observação etnográfica - logo, o campo passou a ser um problema a ser enfrentado. Ir a campo equivale à presença física in situ, “estar lá” - relacionada com a ideia de colher em primeira mão, testemunhar os fatos e com isso inaugurou-se a primazia desse olhar na antropologia. Ver, recolher e registrar. A classificação ao que parece foi tônica nesses processos, subsidiando extensas coleções etnográficas e documentais (MALINOWSKY, 1976; GREENWOOD, 2000; STRATHERN, 2006; ORTNER, 2011; GEERTZ, 1998; PEIRANO, 1995; FERREIRA LIMA, 2017; CUNHA, 2012).
c) diluição do campo - o ponto fixo que permitia ao antropólogo transitar por entre fronteiras, em que atingido o ponto limite é sem retorno (a presença física no campo) – exceto pela reelaboração textual (o retorno ao campo se dava no momento da escrita ou redesenho, isso muitas vezes aconteci anos após os fatos serem examinados in loco), não deixou de existir como na Antropologia clássica, porém, não se configura mais como fronteira geográfica. O ponto fixo – se existe, é o olhar estruturado antropologicamente (CALDEIRA, 1988; ALBERT, 2014; OLIVEIRA, 1998; MENDES JÚNIO & DIAS, 2016; GEERTZ, 1998; CLIFFORD, 2016) em qualquer tempo, ou lugar.
Com a diluição do campo, a possibilidade de “escutar” e “ver” se expandiram. Com a emergência da ceara virtual, o uso intensivo de arquivos virtuais e da imagem, são potencialidades a serem exploradas. Agora é o olhar estruturado do flâner que (des)orienta e desloca espaço e instantes. O olhar é transposto para novas ambiências. Exercitar a acuidade analítica do “olhar vago” proposto por José Ribeiro (2017), assim, colecionar diferentes fontes, materiais e suportes para recolher indícios, intenções dos receptáculos digitais, mnemônicos e, principalmente, mantendo-se disponível aos eventos. A postura é a mesma, os campos é que se circunvoluncionam.
No que concerne à metodologia, centrarei a pesquisa na revisão bibliográfica de autores que permitam aproximações com o tema. Bem como análise de documentos físicos e virtuais que explicitem os posicionamentos políticos e ideológicos dos diversos grupos articulados em torno do nosso estudo.
Uma ampla revisão bibliográfica acerca da temática é necessária, visando aproximar os estudos de museus, a antropologia para compreensão discursos expográficos cuja base é elaborações locais da teoria queer. Autores que trabalham dentro de um dos três eixos propostos para articular essa pesquisa serão revisados durante o percurso dessa pesquisa visando articular o entendimento.
As exposições em tela já ocorreram. Então, centraremos nosso estudo em uma abordagem antropológica dos vestígios documentais existentes acerca dessas exposições. Assim, o foco estará nos rastros deixados nas mídias impressas e digitais, redes sociais e catálogos produzidos pelos discursos autorizados das instituições e representantes.
Concomitantemente foi realizada entrevista com à época, diretora do Museu Antropológico – MA/UFG, Nei Clara Lima e durante 2018, mantive conversações com o Curador que permitiu ampliar o Fundo da Homo (queer remixed). Também, conversas informais com participantes, ou visitantes que testemunharam a mostra nessa instituição, puderam acontecer no decurso de quatro messes enquanto passei indo regularmente ao MA/UFG. Organizadores e participantes do Coletivo Colcha de Retalho tiravam momentos para relembrar do 5 ENUDS. Funcionário da instituição, as vezes se colocaram a respeito do evento, que totaliza cinco pessoas permitindo olhar a mostra em alguns de seus aspectos. Tal proximidade, não aconteceu em relação a QueerMuseu. As seguidas correspondências - via e-mails, para a instituição Santander ou ao Curador Fidelis, pouco agregou a esse estudo. No que se refere a abordagem da mostra em Porto Alegre – RS, informações que figuram aqui, foram todas colhidas em veículos on-line em versões digitais, salvo o catalogo da versão da mostra (2018) na Escola de Artes Visuais do Parque Lage – RJ e gentilmente cedido pela orientadora Camila Wichers.
***
[1] A Sala 2, antigamente conhecida como FCS2 fica no prédio de Humanidades I, Campus Samambaia, onde ocorrem diversas aulas do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás.
[2] Quick Response Code (QR Code) é código de barras bidimensional facilmente escaneável e de amplo uso no mundo virtual por permitir direcionar de maneira rápida as informações. Não é preciso “baixar” aplicativo. Na extrema direita, acima, clicar nos três pontos (verticais) e escolher “Ler Código QR”, no provedor de pesquisa Google. É uma funcionalidade presente entre outros lugares nas páginas de redes sociais.
[3] O termo está em disputa. Mas nessa pesquisa é empregado e mambas as mostras alvo de polêmicas. Vem em ítálico para me lembrar de sua condição colonizadora.